Os loucos da nossa aldeia, uma sensível crônica de Norma Bruno
Os loucos da minha aldeia**
Por Norma Bruno
Tenho atração por gente aluada. Tenho respeito, reverência e afinidade também.
A gente se entende. Acredito que os loucos guardam segredos, que sabem coisas que nós não sabemos. Cada lugar tem seus próprios seres encantados, suas figuras bizarras, ímpares, originais.
Eles são parte fundamental daquilo a que chamamos “alma da cidade”.
Nessa aldeia viveram muitas figuras encantadas. Algumas eu conheci, outras não.
Lembro de ouvir falar da Pandorga, que tinha fama de agressiva.
Chegava nas casas e, ao invés de pedir “um pedaço de pão velho”, como faziam os pobres de antigamente, exigia o adjutório.
Quando insatisfeita, saía xingando, rogando praga.
Foi o que ela fez, certo dia, lá em casa. Insatisfeita com a esmola, ela me rogou uma praga. Eu tinha apenas seis meses de idade, tadinha de mim!
A praga só não pegou porque me levaram imediatamente pra benzer de quebranto.
Diz a Guta Orofino, minha querida amiga, que a Pandorga, cujo verdadeiro nome era Doraci, também batia lá na casa dela pedindo um pau-de-sabão e que, invariavelmente, pedia também um cobertor, mas que a dona Dilma não dava moleza.
Certa vez perguntou: “Ô Doraci, o que é que tu fizeste com o cobertor que eu te dei no ano passado?”.
Ao que ela respondeu, peremptória: “Sim, se chega hóspede, o que é que eu ofereço?”.
Outra vez chegou, toda chorosa, reclamava que tinha sido assaltada.
A dona Dilma disse: “Ô criatura, e o que é que tu tinhas pra ser roubado?”.
Ela respondeu, desacorçoada: “O saco da esmola…”.
Tinha o Marrequinha, que em sua loucura encarnava um guarda de trânsito e ficava no meio da rua, no Centro, com os braços abertos, organizando um interminável fluxo de automóveis imaginários, segundo as suas próprias referências caóticas.
Também tinha o Papo Amarelo, que usava um lenço dessa cor amarrado no pescoço e xingava de nome feio quando alguém o chamava pelo apelido.
Dizem que era lá da Lagoa ou da Barra, não se sabe ao certo.
Sabe-se que era devoto do Senhor dos Passos e que não perdia uma procissão.
Certa vez, acompanhando o Filho de Deus na descida do Hospital de Caridade, ele cantava contrito aquele hino que diz: “Bendiiitoo, louvado seejaa…”, quando alguém gritou: “Papo Amareloooo!”.
Ele não contou tempo. Sem perder o ritmo e acompanhando a melodia, emendou: “Papo Amarelo é a puta que pariiiuuu…”.
Outra figura encantada da aldeia era a Nega Tita e dela eu lembro, pois já era mocinha quando a conheci.
Ela era parda, entanguida, de pernas tortas.
Era toda agitadinha e tornava-se muito desbocada quando os rapazes faziam escarne dela.
Tinha uma escadinha de filhos e já faz parte do folclore o que ela disse, certo dia, quando abordada por uma daquelas senhoras piedosas que sobem o morro atrás de criança pra criar.
“Cês qué minino? Então vão dá como o di!”
O Beto do Box me contou que a Tita, coitada, morreu atropelada em frente ao Instituto de Educação, abraçada a duas tainhas ovadas que ele acabara de dar pra ela.
Era Quinta-feira Santa. Não se pode precisar a sua idade, data de nascimento, essas coisas, até porque vida de pobre não deixa rastro, mas o Beto calcula que ela devia ter uns setenta e poucos anos quando morreu, em 2001.
De louco tinha também o Bento, um homem dócil e gentil que morava lá pras bandas da Ferrugem – a Pedreira – na Costeira do Pirajubaé.
O Bento usava uma barba longa até o peito, andava em trapos e carregava nos ombros um cajado com um fardo amarrado na ponta.
Caminhava sem parar. Saía da Costeira bem cedinho, passava na frente da casa do meu avô, no Saco dos Limões, e ia andando toda vida, toda vida, até o Centro.
Voltava no fim da manhã e já no começo da tarde reiniciava a caminhada.
Depois voltava. O povo perguntava: “Ô Bento! Quantas veiz hoje?”.
Ele sorria e recomeçava a sua sina.
Trazia os dedos cheios de anéis – argolas, arruelas, molas e porcas de parafuso que ele ia encontrando pelo caminho e metamorfoseando em lindas joias.
Também viveu por aqui a Martha Rocha que, segundo a minha mãe, tinha esse codinome porque, como a eterna Miss Brasil, ela também andava muito pintada.
Lembro o Bispo, nascido Osmarino, não se sabe onde, um homem atarracado, de cabelos brancos que, desde que incorporou um alto signatário de Igreja, transformava retalhos de pano em paramentos litúrgicos, amarrando-os na cintura, como túnica.
Vestia-se, invariavelmente, de roxo ou verde; no peito usava uma corrente com um medalhão e um crucifixo.
Na cabeça, um solidéu, como deve ser.
Tudo concebido e confeccionado por ele mesmo. Esse eu também conheci.
Faltou dizer
Infelizmente, com a decadência das áreas centrais das cidades e aprisionados que estamos em condomínios fechados e shoppings centers, raramente se vê um louco andarilhando pelas ruas, hoje em dia.
Um sinal contundente de que as cidades empobreceram.
* A “louca” mais famosa da Aldeia atendia pelo codinome Traça, minha personagem mais querida, será tema da minha próxima crônica.
** Excerto da crônica Metamorfose, do livro A Minha Aldeia, 2004.
(A foto de abertura é do Pixabay)
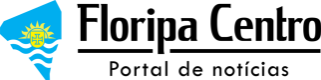






Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!